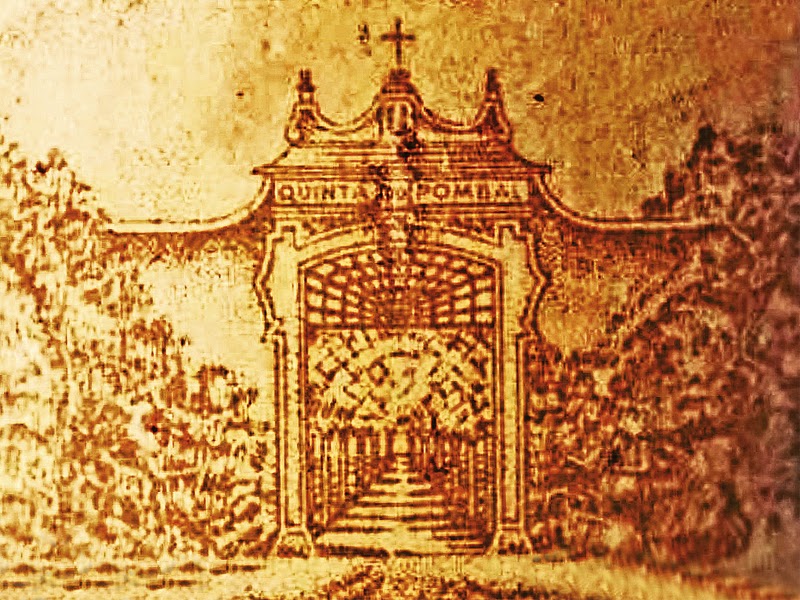|
Almada, edifício da União Eléctrica Portuguesa. Entrada Conjunto Pormenor. Arquivo Municipal de Lisboa |
A acção de Keil do Amaral cobriu uma área geográfica que se estende por toda a península de Setúbal. O complexo que integrava a subestação tinha um programa eminentemente industrial de produção, transformação e transporte de energia. No entanto, era ainda neste local que se situavam todos os serviços de apoio ao transporte de energia.
Em termos da evolução histórica da zona a intervir, pode-se claramente distinguir quatro fases, todas elas temporalmente situadas no século XX.
A fase inicial, realizada entre 1930 e 1940, traduziu-se num pequeno edifício residencial, de autor desconhecido, característico da arquitectura do regime de então.
 |
Almada, geradora eléctrica, localizada no Campo de S. Paulo, ed. desc., década de 1930. Imagem: Arquivo Nacional da Torre do Tombo |
A segunda fase foi já protagonizada pelo arquitecto Francisco Keil do Amaral, em 1940. O edifício em forma de L e a sua torre vertical ficaram acabados em 1945 e tinham como fim alojar os escritórios da União Eléctrica Portuguesa.
 |
Almada, rua Bernardo Francisco da Costa, ed. desc., década de 1960. |
Com o passar do tempo foi necessário expandir os escritórios e criar armazéns, tendo-se assim dado início à terceira fase. Grande parte desta inter- venção constava já do projecto original de Keil, ao qual foi apenas necessário acrescentar a casa do Guarda e a conexão com o edifício pré-existente.
 |
Almada, edifício da União Eléctrica Portuguesa. Escada Fachada. Arquivo Municipal de Lisboa |
A quarta e última fase consistiu numa série de adições necessárias de re- alizar, tal como o novo volume em betão que servia para estacionamento. Na construção e no acabamento da obra de Keil foram usadas paredes duplas de tijolo, rebocadas com argamassa de cimento e areia ao traço de 1x4 e pintadas com “aquella”. Ao nível dos pavimentos, foram colocados mosaicos de “marmorite” e de cimento com óxido de ferro.
 |
Almada, edifício da União Eléctrica Portuguesa. Sala de vendas. Arquivo Municipal de Lisboa |
Adicionalmente, nesta obra usou-se ainda um vasto conjunto de materiais, nomeadamente socos de cantaria bujardada provenientes de Sesimbra, caixilharias de pinho pintadas a esmalte, com uma vidraça mecaniza- da nacional de 4mm, e ainda telha “marselha”, em lugar da tradicional telha “lusa”. (1)
(1) Reabilitação da antiga subestação da união eléctrica portuguesa, em Almada (abstract)
Mais informação: