%2002.jpg) |
| Edmundo Castanheira, capa do livro Construção de pequenas embarcações (detalhe). Dinalivro |
É escrito numa linguagem (Nomenclatura Naval) que é comum e interessa a todos os que de qualquer modo estejam ligados a navios de qualquer dimensão e construídos de quaisquer materiais. (1)
O autor publicou na Dinalivro Construção de Pequenas Embarcações (1977) e Manual de Construção de Navios de Madeira (1991).
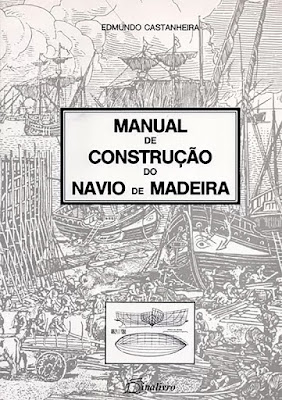 |
| Edmundo Castanheira, capa do livro Manual de Construção do Navio de Madeira (1991). Livraria Santiago |
Com Auxiliar do Técnico Industrial (2002) Edmundo Castanheira vem pôr à disposição do leitor, no seguimento de uma linha que se caracteriza essencialmente pelo seu carácter prático, didáctico e técnico, todos os conhecimentos que adquiriu ao longo de muitos anos de estudo e de prática concreta na área da construção e reparações navais.
 |
| Edmundo Castanheira, capa do livro Auxiliar do Técnico Industrial (2002). Dinalivro |
Neste sentido, poderá encontrar-se não só um manancial de bases teóricas e de conhecimentos práticos fundamentais, mas também as soluções para vários problemas ou ainda algumas informações particularmente úteis para estudantes, como é o caso das tabelas de conversão de unidades e de materiais ou das secções sobre desenho geométrico, projecções, planificações, entre outras, que integram, tal como os livros anteriores, um trabalho inestimável.
O autor, Edmundo Castanheira, nasceu em 1924. depois de obter o diploma do Curso Industrial dedicou quarenta anos da sua vida à arte da construção naval em madeira. Foi Contra-mestre de carpintaria e docas secas, bem como desenhador e traçador de navios de madeira na H. Parry & Son (v. artigo relacionado: H. Parry & Son, estaleiro em Cacilhas).
 |
| Cacilhas, Estaleiro, ed. J. Lemos, 16, década de 1960. Delcampe |
Mais tarde, trabalhou na Sociedade Geral de Comércio, Industria e Transportes (SG), exercendo as funções de chefe de trabalhos de carpintaria de bordo, oficinas, estofadores, polidores e calafates.
 |
| Lisnave, brochura promocional, junho de 1971. A Lisnave... |
Durante 12 anos esteve nos estaleiros da Lisnave como chefe de aprestamento de navios, dando assistência técnica às fragatas para a NATO Almirante Pereira da Silva, Gago Coutinho, navios para a pesca do bacalhau
(1) Authentic livros
(2) Dinalivro
Tema:
Construção naval
Informação relacionada:
Alexandre Flores (fb)
As Margueiras, Contributos para a história de Cacilhas, Junta de Freguesia de Cacilhas, O Farol, 2013










%201882%20Colecc%CC%A7a%CC%83o%20particular%20em%20Braga%2000.jpg)




























